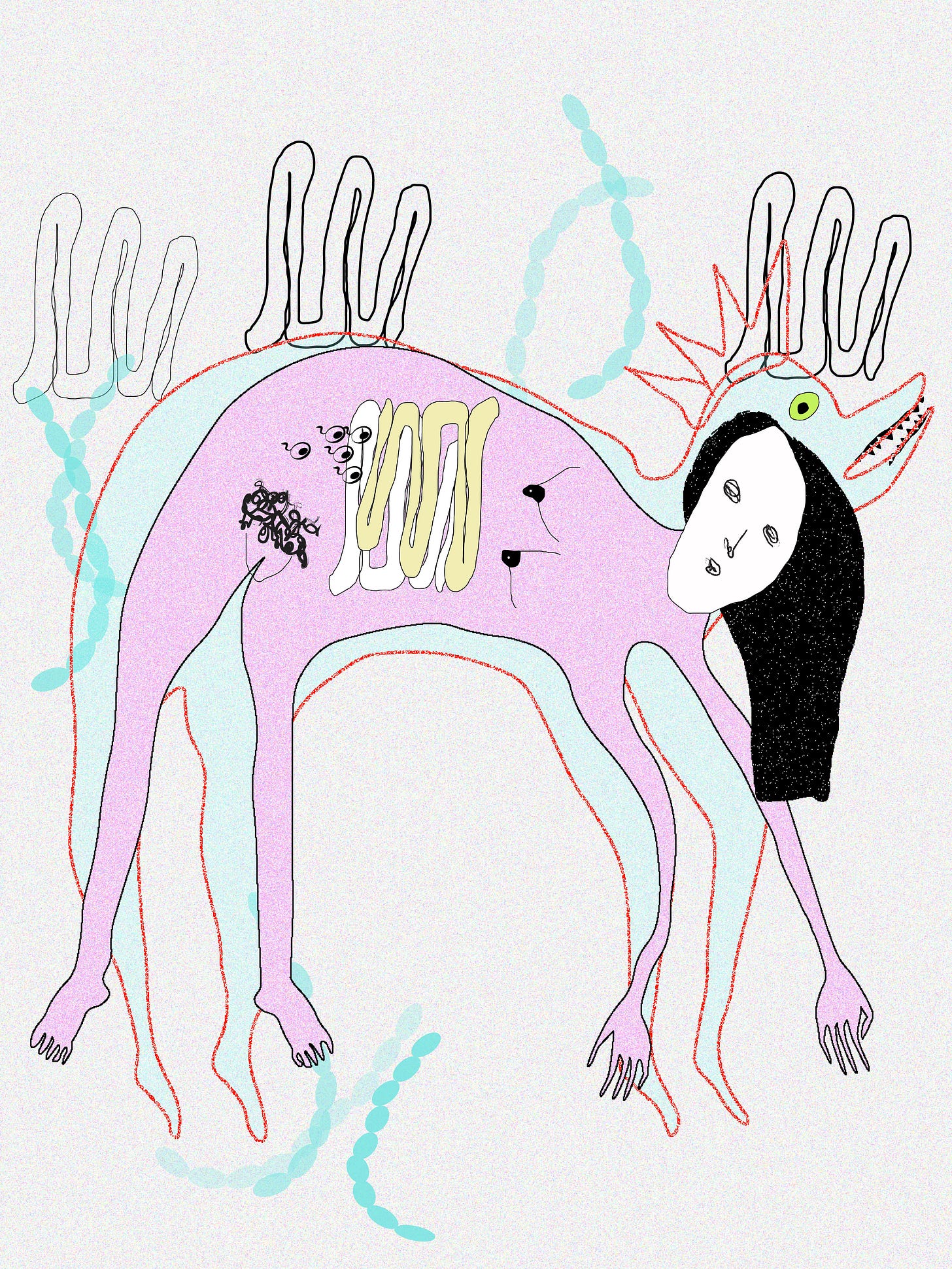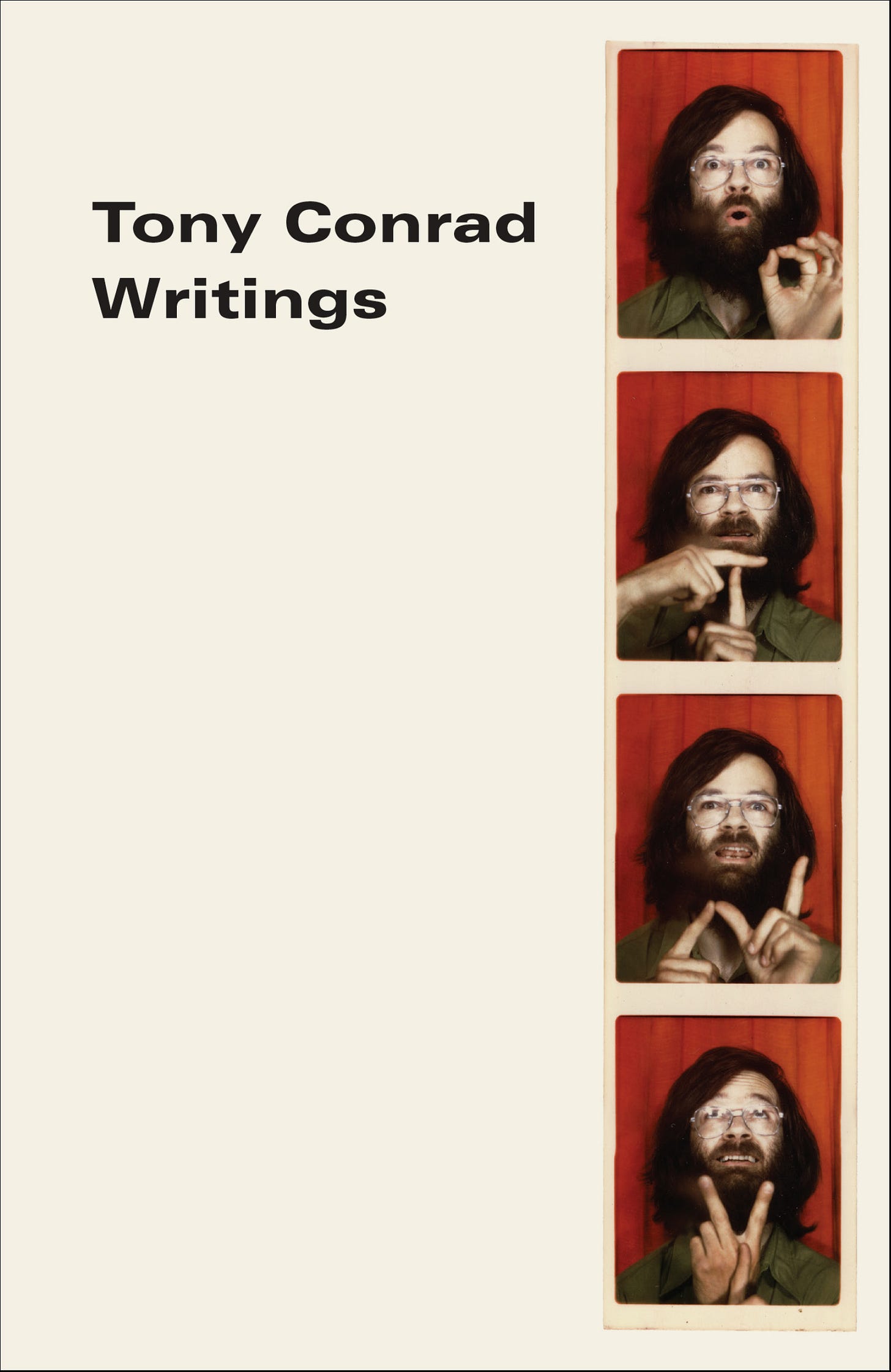2
Angel Bat Dawid / Romulo Alexis / Cadós Sanchez / Inés Terra / Paula Rebellato / Bruno Trchmnn / Ginna Jorge / Reuben da Rocha / Jeanne Callegari / Tony Conrad / Gabriela Nobre / Natasha Felix
Invenção musical como prática comunitária
Trechos de duas entrevistas concedidas por Angel Bat Dawid, compositora, improvisadora, clarinetista, pianista, vocalista, educadora e DJ negra estadunidense, para os portais Jazz Right Now e I Care If You Listen — em tradução de Romulo Alexis
Crédito da imagem: Laurent Orseau
Além de atuar com sua banda Angel Bat Dawid & Tha Brothahood e com o Black Monument Ensemble, de Damon Locks, e de liderar o conjunto feminino Sistazz of the Nitty Gritty, Dawid também leciona música para crianças, de bebês a adolescentes, orienta jovens adultos e apresenta um programa mensal sobre música na NTS Radio.
A família de Dawid mudou-se para o Quênia quando ela tinha 7 anos, e as ofertas de educação musical eram limitadas por lá. Quando retornaram aos EUA, quatro anos depois, ela começou a ter aulas de piano após uma epifania assistindo ao longa metragem sobre Mozart. Em seus estudos de piano clássico e clarinete, ela era frequentemente a única musicista negra. “Quanto mais eu continuava, menos via pessoas parecidas comigo, e eles me colocavam em posições inferiores. Me formei em performance de clarinete e simplesmente não estava recebendo nenhum apoio, porque era uma escola majoritariamente branca”.
O racismo estrutural está sempre presente, e Dawid não se desculpa se algumas pessoas se sentem desconfortáveis com o fato de ela dar nome ao problema. “Estou muito interessada em investigar como seria para artistas negros poderem se apresentar sem todos esses problemas [sistêmicos] – criando espaços para artistas negros criarem”.
“O mundo em geral parece constantemente lembrar aos negros que somos estranhos, diferentes e esquisitos, ou que as pessoas têm medo de nós, nos fetichizam, amam nossa cultura, música, etc., mas nos odeiam. Ou acham que queremos roubar ou que não somos bonitos. Há tanta coisa que, como artistas não brancos, precisamos pensar em fazer em espaços totalmente brancos; muitos brancos ficariam surpresos com o que temos que pensar e lidar”.
“Eu caracterizo minha estética sonora como Great Black Music (AACM), o que me permite mergulhar em múltiplas formas de expressão musical. Essa música não tem gênero. Eu consigo compor para uma orquestra de 100 instrumentos e também reger um grupo de pessoas que não são músicos e fazer com que vocês soem como um coro de oratório, porque eu opero com composição espontânea e improvisação”.
“Sou uma mulher negra, então toda a música que sai de mim traz consigo a história, a cultura, as alegrias, o sofrimento, os altos e baixos e tudo o mais da experiência negra. É uma colagem encantadora... uma colcha de retalhos. Sabemos que a música é muito maior do que um álbum ou fã-clubes… A música é para curar e unir as pessoas”.
Romulo Alexis é músico, improvisador e produtor cultural.
A estase de Santa Cecília
Cadós Sanchez
Crédito da imagem: O Êxtase de Santa Cecília ( 1514-1517), Rafael Sanzio
"[...] a diferença entre índios e civilizados se dá, diante do oferecimento, por parte do herói criador, para ambos, do mbaraka (instrumento musical) e do kuatia jehairä (papel para escrever), e pela opção do índio pelo mundo sonoro e musical […] e do branco pelo mundo da palavra escrita […]"
[Deise Lucy Oliveira Montardo, em Através do Mbaraka: música e xamanismo guarani, p.35]
"A escrita e a música podem ser máquinas de guerra."
[Deleuze e Guattari, em Mil Platôs - vol. 5, p.202]
A escritura monoteísta fez do Ocidente uma monocultura estática, sedentária, de cercamento e possessão. A negação da oralidade pelo iluminismo posterior assentou a ilusão de uma marcha de direção única, progressão cartesiana horizontalmente estática apesar da incrível aceleração técnica vertical. A oralidade faz o mundo se mover e o corpo girar em sentidos contrários, diversos. Se outros povos de escrita monoteístas não alcançaram tal feito imobilista judaico-cristão, certamente foi devido ao fato de não sobreporem a escrita às outras linguagens, de não submeterem o instrumento à escritura.
Talvez o primeiro instrumento imóvel construído seja o órgão, símbolo do império cristão por excelência, submetido à escrita na sua prescrição, construção e execução. Por outro lado, e apesar da proibição, criminalização e apreensão dos instrumentos, danças e corpos bárbaros e pagãos desde o surgimento do órgão até início do século XX, grande parte das raízes dos instrumentos ocidentais de hoje penetraram nos territórios cristãos desde os primórdios dessa civilização através dos povos monoteístas do Oriente Médio citados antes. A Europa iluminista, por sua vez, conseguiu submeter esses instrumentos musicais desenvolvidos a partir de matrizes infiéis quase integralmente à escrita, seja através do manual de instruções, construção e execução, seja através da partitura, das cartas patentes de autorização e certificação de determinados instrumentistas tocarem em determinados lugares, ou através de outras incontáveis leis e regulamentações feitas, por vezes, por indivíduos alheios à prática musical, burocratas e enciclopedistas pretensamente universais. Outro exemplo dessa paradoxal paralisia acelerada pode ser observado nos acervos dos museus do mundo. Ameríndios e africanos têm chamado essas construções de cemitérios ou prisões, talvez duas das maiores metáforas para o imobilismo.
Mas voltando ao paradoxo, como disse um príncipe no filme "O Leopardo" de Visconti: "para que as coisas permaneçam iguais, é preciso que tudo mude".
É importante destacar que a Idade Média, frequentemente chamada de "Idade das Trevas", representou no Ocidente um período de transição entre uma cultura predominantemente oral – caótica e fragmentada – e uma civilização pautada pelo livro, progressivamente regulada e iluminada pela escrita. Apesar do letramento restrito à elite clerical e das proibições descuidadas dos instrumentos musicais, houve uma notável proliferação de instrumentos sonoros de origens diversas nesse período. Contudo, posteriormente, o número de instrumentos no território europeu parece ter sofrido uma redução – especialmente se considerarmos apenas aqueles que integram a orquestra ocidental tal como a conhecemos hoje.
Uma pesquisa quantitativa recente, publicada na revista Nature (embora, a meu ver, com métodos questionáveis), analisou a distribuição global de variedades de instrumentos musicais. Apesar de suas limitações, o estudo revela uma diversidade significativamente maior no Brasil em comparação com toda a Europa. Esse dado não é difícil de compreender, uma vez que a pesquisa inclui, por exemplo, instrumentos ameríndios e afro-brasileiros. No entanto, é possível que a Europa levasse vantagem se o estudo considerasse não apenas gravações musicais, mas também os instrumentos "presos" ou "mortos", "preservados" em museus europeus.
Cadós Sanchez desenvolve instrumentos, instalações, objetos e performances em música experimental e arte sonora.
3 questões para Inés Terra
Entrevista realizada por Romulo Alexis
Crédito da imagem: Inés Terra por Caetano Tola
Inés Terra é cantora, improvisadora e produtora cultural. Formada em Música Popular (voz) na Unicamp, é mestra em Processos de Criação Musical na USP e doutora na mesma área, pesquisando a performance vocal como escrita do corpo e autoficção. Em 2024, lançou seu último trabalho, o álbum vocal regougar (Brava/Scatter Archive, 2024).
Qual é a ética que orienta a sua prática performática? E ela é informada, inspirada pelo quê?
Considero que tem duas noções de escuta que são importantes no meu trabalho: a primeira é a ideia de “escutar com”, que é um termo que a compositora Annea Lockwood utiliza em diálogo com Donna Haraway, com o trabalho dela, Espécies Companheiras, que tem a ver com entender a escuta como algo simultâneo, algo recíproco, algo que está acontecendo. Enquanto você escuta, tem outras pessoas escutando, tem outros seres escutando, tudo está à escuta. E isso acredito que influencia muito no modo de performar, no modo de me relacionar com essas escutas. A outra escuta seria a escuta do corpo, pensar o corpo como um arquivo de memórias. O que não é algo simples. Eu acho que me demorei muito tempo nesse lugar da escuta do meu corpo, assim, como mulher, porque eu tive muita dificuldade de lidar com alguns traumas, com alguns acontecimentos da minha vida. Quando eu digo me demorei, quero dizer, eu foquei nisso propositalmente. Trabalhando isso em mim, e no fim, na verdade, isso foi ótimo, porque me permitiu abrir mais a escuta para vozes que não são as minhas.
Então, por um lado, tem esse lugar da voz que revela algo muito íntimo, singular, particular, mas por outro lado, tem esse lugar da voz que é sempre plural e que tira, arranca você de você mesma, e que permite que você, pelo menos no desejo, fantasie com conseguir olhar, ver e escutar o mundo e a realidade de formas que em princípio você não conseguiria. E nesse lugar da escuta do corpo, me interessa muito pensar como essas vibrações agem no corpo. Às vezes, escolher uma sonoridade, ou uma expressão ou emissão vocal a partir da sensação física mesmo, e não necessariamente daquele desejo do que gostaria escutar, seria uma escuta menos coclear. Acho isso bastante revelador no encontro com outras pessoas também, na hora de improvisar ou de criar junto. Como que esse som chega no seu corpo? O que eles provocam? Ao que eles te remetem, né? Que lembranças ativam?
Como a prática educativa informa sua poética?
Dar aula pra mim é um processo criativo. Tem que reunir conhecimentos, memórias e criar as condições para abrir espaço de possibilidade, de encontro. Tem algo de transmitir o prazer da própria prática que eu acho apaixonante. Transmitir a libido do fazer e ver o que isso provoca em outras pessoas. Isso alimenta muito a minha prática. E trabalhar com pessoas de áreas diversas, cinema, literatura, dança, performance, inclusive pessoas que não são das artes em princípio. Fazer traduções entre esses modos de expressão e mundos é algo muito rico. É importante dizer que os meus âmbitos de ensino têm sido cursos de extensão em centros culturais, projetos sociais, projetos de fomento à arte ou cursos privados. Acho que dar aula em um curso, dar aula fixa num programa de ensino, numa universidade, numa escola, é diferente. Tem outras demandas, mas de qualquer modo eu entendo que ensinar é ser desafiada e provocada constantemente. Eu fico tão nervosa, ou mais, às vezes, para ensinar do que para performar. Eu acho isso interessante. Então, ensinar é o processo de aprendizado na hora certa. Quando parece que você estancou, vem alguém e faz alguma pergunta que move e transforma tudo.
Considerando a voz como um dos instrumentos mais desafiadores da expressão, o que é que não cabe na sua voz?
Talvez o que não caiba seja um único modo de emissão vocal, algo que seja considerado certo na voz, sabe? O que não cabe são essas verdades sobre a voz da perspectiva técnica. Eu considero que se você faz o que você faz, de forma genuína, em contato com a sua história, escutando o seu corpo, mantendo as perguntas em movimento, lidando com as suas contradições, mantendo o desejo vivo, acredito que você pode experimentar à vontade.
Então, talvez, no meu caso, o que não cabe é não ter a possibilidade de experimentar ou de mudar, ou de transformar. É isso.
O som me beija enquanto me morde
Paula Rebellato
Crédito da imagem: Rodrigo Fonseca
Tem dia que é noite.
Meu corpo entra em uma dilatação esquisita difícil de descrever. O tempo convoca-me ao absurdo da irracionalidade e provoca-me através de um som. Este som chega de longe e o fenômeno não me é estranho. Conheço esse forasteiro e ele me conhece, mas o momento do absurdo quase nunca pede licença.
Penso. Ok, vamos lá. O que você tem para hoje?
O som, que parece um zumbido sintetizado, vai se aproximando e todos os pelos do meu corpo saltam e uma sensação letárgica me possui. Neste momento eu já entendi que todo o possível controle sobre a situação é emocional. Maldito! Sempre toca no mais vulnerável.
O som rouba-me o corpo e provoca as minhas crenças.
O dia virou noite.
Um segundo corpo, mais translúcido e abstrato, pesa apenas na minha mente. Ele é guiado por esse som, que neste momento já se multiplicou em 10 zumbidos diferentes. Observo-me de fora e tudo parece morto – uma carcaça jogada na cama à espera de um milagre. Aqui o milagre não seria sobrenatural, apenas matemático.
Já entregue e feita refém do forasteiro, tento aproveitar o passeio absurdo. Hoje ele me transportou a mais um desejo esquecido e sempre encontra uma maneira de me refletir em algum espelho – para que assim eu possa constatar que, aos domínios dele, minha forma torna-se outra.
Indago. Se estou sob os seus domínios, aos domínios de quem ele estará?
PSSSSSSSSZZZZZMMM! O zumbido se intensifica e minhas emoções começam a bagunçar novamente. Já sei que o provoquei com a minha indagação. Maldito! Ele vai me responder!
– O dia e a noite já não fazem distinção. A resposta está no começo.
Com a sensação de missão cumprida, o forasteiro se despede lentamente enquanto meu segundo corpo une-se ao primeiro, ou talvez seja o contrário agora. Não sei.
O som me beija enquanto me morde.
Paula Rebellato vive e trabalha na cidade de São Paulo. Atua como musicista, integrando bandas como Rakta, Duplo e Madrugada, além do duo Qmar e de seus projetos solo.
5 notas a partir do chão
Bruno Trchmmn
1) Quando usamos a palavra improvisação parece sempre haver um pé atrás, uma suspeita, especialmente na gringa. Muitas vezes eu ouvi algo como “eu não uso esse termo, prefiro tal e tal palavra”. O que é engraçado; eu sempre imaginei que era um termo bem assimilado. Talvez por isso mesmo; grande assimilação também impulsiona uma grande reação e leitura crítica. Mas, de qualquer maneira, eu sempre me apeguei ao termo. Por aqui, eu sinto que é uma palavra positiva, e simples de entender. Improvisar, dar um jeito, como uma gambiarra. Mais do que um ajuste fácil e rápido, improvisar no nosso cotidiano é a arte de seguir em frente, de não represar o fluxo do dia, atravessar o problema rapidamente e não perder a energia. Nossa improvisação pode carregar esse sentido cotidiano, do movimento, uma pulsão de vida de continuar. Improvisar sempre, ser irrefreável, incontornável, continuar vivo e criando. Eu sinto que abracei a improvisação nesse sentido, um tesouro na escassez de virtudes e recursos. Improvisar pode ser o fazer de mão vazias.
2) Em geral, se fala em improvisação como a etapa final do aprendizado: você deve dominar todas as formas, todo o material de sua expressão, antes de improvisar. Improvisação é assunto de desconstrução, de liberdade conquistada. “Deixe para os adultos”. Existe essa forma de improvisar onde o objetivo é impedir que a forma se estabeleça, que a técnica por si só expresse uma forma já estabelecida interiormente. Essa é a abordagem necessária para improvisar a partir de uma educação formal em música, profissional. É preciso muito esforço para cortar os reflexos já internalizados da forma adequada, da forma eficiente. Esse é um grande trabalho; improvisar é então não dar espaço ao corpo e à mente treinada pelos exercícios, é lutar contra a forma interiorizada no corpo, em um aspecto muito grande de disciplina, no sentido de um esforço direcionado contra o desejo, o sentido, o reflexo. Essa forma de improvisar, no entanto, é totalmente estranha para mim. Ouvir o reflexo do corpo, deixar que o corpo ouça e reaja, essa é mais a disciplina que conheço, o que também não é fácil, mas é gostoso, é um local de prazer e afirmação da vida.
Não tive opção senão improvisar a partir do chão.
3) A improvisação parece sempre se iniciar a partir dos gestos mais fracos, por aquilo que se move mais próximo ao chão. Porque a força de uma não-intenção não será pelo grande, o grande necessita de uma estrutura firme. A improvisação se dá pela continuidade do movimento, pelo fluxo. O movimento, nesse sentido, é uma força-fraca, pode golpear, mas não ergue algo, exceto a sua continuidade. É preciso pelo movimento das pequenas coisas tornar vivo o ar, ganhar momentum em pequenos gestos (não no sentido de pequenos, mas de fracos, simples, não-estruturais.)
4) Essa foi a minha experiência na improvisação. A improvisação me abrigou em minha falta de conhecimento de técnica e habilidade, abrigou essa fraqueza em reproduzir e criar estruturas, e apresentou todo o campo de um tipo diferente de força que eu poderia acessar e dar movimento. Tudo dependia apenas do desejo e da decisão de viver. A improvisação é o fácil-difícil; para quem sente que nada tem, é o caminho mais generoso. Do nada, pode-se tirar tudo. Tudo que se pede é, em atenção plena, arremessar sua ação em direção ao espaço.
5) Eu posso imaginar um som. O som não depende da matéria para existir, em última instância. Eu posso me lembrar de um som, eu posso imaginar um som em muitas alturas diferentes, eu posso reproduzir e expandir modelos de som em minha mente. Mas eu não posso imaginar um gesto. A produção do som no mundo, o gesto do som no mundo, aí é que está a prática. Eu posso improvisar em minha mente? É uma questão, algo a se tentar. Mas eu suspeito que não é possível.
Bruno Trchmnn vive e trabalha em Campinas-SP. Seu trabalho se orienta pela improvisação enquanto uma prática cotidiana, a escuta intervalar do drone, sistemas de afinação abertos e intuitivos e da colagem como processo.
Ruído profundo (em quatro atos)
Ginna Jorge
Crédito da imagem: Ginna Jorge
I
Qual som emerge dos escombros das ruínas do antropoceno?
Do silêncio enlutado das pilhas de corpos que se amontoam sobre o solo da terra em decomposição numa nova grande extinção em massa, brota também o coro polifônico das novas possibilidades de vida. Microrganismos em atividade de decomposição radical infiltram-se nas linhas que desenham a pirâmide taxonômica que coloca a voz do humano – com sua excepcional capacidade de linguagem – no topo do mundo e as dissolve. A simbiose acontece por toda a parte: espécies já não podem ser confinadas pelos limites da pele e a capacidade de organizar sons em linguagem já não é privilégio humano. O ruído selvagem, multiespécie, simbionte desvela o logos.
II
Uma baleia bilíngue
Em 2013, na Crimeia, uma baleia beluga de 4 anos de idade aprendeu a linguagem dos golfinhos. Após dois meses de convivência com seus companheiros cetáceos, a beluga começou a emitir assobios longos típicos dos golfinhos, enquanto tornavam-se menos frequentes vocalizações em seu próprio idioma de baleia. Cientistas russos também constataram que os golfinhos aprenderam um assobio curto de “baleiês”.
III
SF (sound fiction) Devir-sônico: duas senhoras e uma cadela na casa de chá
Na ponta esquerda da mesa está Pauline Oliveros, vestida com uma larga bata indiana; segura em sua lésbica mão canhota uma xícara de chá de camomila. À sua frente está sentada Donna Haraway com seu lookinho agility. Em seus dedos de mulher velha afeita ao doméstico segura seu chá de menta. Após um longo silêncio – uma fina folha da hortaliça gruda na colher e se parte –, Haraway pergunta:
DH: Habitando um planeta ferido, qual tipo de escuta é necessária em nossos tempos?
PO: Uma escuta profunda.
DH: E o que seria uma escuta profunda?
PO: Aprender a expandir a percepção sonora para incluir todo o continuum de espaço/tempo do som. Tal expansão significa que a pessoa está conectada com todo o ambiente e além.
DH: Os bichos interpenetram-se, enlaçam-se e atravessam-se; comem-se uns aos outros, têm indigestão, digerem-se e assimilam-se parcialmente, estabelecendo agenciamentos simpoiéticos também conhecidos como células, organismos e conjuntos ecológicos. Expandir a percepção sonora conectada com todo o ambiente e além seria então uma espécie de devir-sônico? Não apenas habitar-com, mas escutar-com… uma escuta simbionte? Mais um longo silêncio se segue de finos estalos da colher rangendo na porcelana.
DH: Certa vez, Elizabeth Povinelli disse a Juliana Fausto: “devemos entender que o movimento não é do ruído para o logos, mas que logos é ruído”. Para você, é possível um ruído simbionte, como modo de escuta profunda? Escutar não mais humanamente, mas humusamente, escutar-com bactérias do intestino e além?
PO: Um ruído profundo… talvez?
DH: Talvez.
Cayenne Pepper late embaixo da mesa.
VI
Ruído profundo, ruído simbionte
Imagine uma cena: você precisa descansar mas sua gata está no cio. E então seu vizinho liga a furadeira. Tecnicamente, quando você quer deixar de ouvir certo som, pode simplesmente soar ruídos no seu fone de ouvido, como o ruído branco, fazendo com que o som indesejado simplesmente desapareça. Isso acontece pois o ruído branco contém todas as frequências audíveis para humanos na mesma intensidade, abrangendo frequências entre 20Hz e 20.000Hz. Já a faixa sonora da vocalização da gata no cio é de aproximadamente 1000Hz a 2000Hz e a furadeira está situada na faixa de 600Hz a 6000Hz. Assim, há uma soma zero das frequências da gata e da furadeira quando sobrepostas ao espectro do ruído branco. O ruído tem esse poder de dissolver as bordas, de misturar uma gata no cio com uma furadeira até que não se possa definir onde começa a gata e onde termina a furadeira. A mecânica do ruído atravessa a materialidade dos corpos, subvertendo os limites das taxonomias que separam organismo e máquina, natureza e cultura, linguagem e ruído – incluindo seu próprio corpo humano.
Ginna Jorge é artista multimídia especulando modos de interação e agenciamentos multi-espécie. Borrando as bordas disciplinares, experimenta como linguagem a artesania tecnológica.
Originalidade e prazer
Reuben da Rocha
Houve um momento primevo da experiência humana na terra quando arte, religião e ciência eram indiscerníveis e operavam como uma linguagem só. Esse momento está condensado na figura do pajé: sua atividade multimídia é a primeira forma organizada de medicina e cosmovisão. A conduta do pajé demonstra que a criatividade exige ciência, que a ciência exige beleza, e a conexão do indivíduo com o Todo, à qual se pode chamar de transcendência, é uma operação artística. O ato de criação engendra um pequeno cosmos e reencena o próprio surgimento do universo que habitamos. A fulgurância ou arrebatamento que podemos sentir ante o trabalho perfeito de um pedreiro ou um pianista é um lembrete da nossa origem comum. Penso que a arte ainda existe para ser cosmovisão, e assim produzir medicina por meio de sua ciência peculiar – que é a técnica de sintetizar emoções e percepções maiores que a vida individual, inclusive a do próprio artista. Qualquer artista empenhado em desbravar os limites do ser é um emissário da origem do universo. Penso que “original” não é quem faz primeiro, mas sim quem vibra junto à origem. A realidade opera por ciclos, e sendo assim a origem está sempre a nosso alcance. Original é a água, ou o espírito cujo incômodo – cuja coceira milagrosa! – cujo senso de possibilidade gerou a festa multiforme da matéria, e do qual somos as cintilantes manifestações. O artista experimental ganha muito quando perde o medo de se repetir. Existe um ethos vanguardista ainda muito em voga que ignora, ou melhor, suprime o prazer da repetição – bem como seu papel nas mudanças, que são orgânicas. As coisas se transformam por si mesmas, à revelia de uma vontade ou necessidade de mudança que possamos ter. Você faz a sua prática criativa, relaxa um pouco da ansiedade de progredir, daí a sua vida muda, e naturalmente a sua prática também se transforma. A forma é manifestação de energia. A energia não tem forma, e é difícil de domar. Segundo o islamismo sufi, somos nós que criamos o corpo, e não o contrário. O corpo é o condutor de uma experiência. A energia incontida se expande nas formas. A técnica nasce da curiosidade, e se converte em ciência por meio da devoção ao próprio fazer.
Reuben da Rocha é artista anti-disciplinar. Publicou oito livros e, com o projeto Reuben the Organizer, três álbuns solo. Integra o ensemble de improvisação livre e poesia sonora Bloika.
Teses sobre arte
Tony Conrad – tradução de Bruno Trchmnn
1. Arte é uma excrescência social, como a casca de um pão, que se forma autopoieticamente (é emergente) sob certas condições das camadas sociais.
2. Arte é um produto que abriga uma surpreendentemente rica estratificação de contaminantes parasíticos, ideológicos e sociais.
3. Como alguns dos cortesãos, bobos da corte e o clero no início da sociedade europeia, alguns artistas podem provocar a consternação de barreiras sociais e regimes de significação.
4. Porque artistas negociam uma transparência artificial dos limites sociais ascendentes, eles são vistos com suspeita e ódio ou inveja pelas massas.
5. A própria fundação autopoiética (que gera a si mesma) implícita das artes oculta essa condição estrutural dos artistas que agem inteiramente dentro das condições da arte.
6. Como a moda, a arte fornece um contexto social no qual os sistemas de valores são substituíveis. Valores intelectuais, emotivos e simbólicos (heráldicos) são intercambiáveis.
7. Arte é um disfarce para certas variedades de transtorno obsessivo-compulsivo, colecionismo e manufaturas não-funcionais (artesanato).
8. Artistas promovem para si oportunidades para serem mais inventivos, poéticos e emocionalmente ou intelectualmente mais vividos que as constrições da ordem social poderiam oferecer.
9. Arte é sempre um produto coletivo, em que alguns colaboradores podem ser confundidos e mal representados com ideais.
10. O habitual e instintivo conforto que a arte e a música proporcionam desde a infância são o mecanismo que move a arte enquanto uma excrescência social.
11. Como mediadores sociais, artistas são avatares da autocensura e quase nunca podem representar de forma confiável posições políticas contrárias ou radicais.
12. O status da arte como uma reserva protegida, acessível apenas através do conhecimento especializado está comprometido pelo status atual da cultura de redes.
Tony Conrad (1940-2016) foi um videoartista, cineasta experimental, músico, compositor, artista sonoro, professor e escritor americano. Ativo em diversas mídias desde o início da década de 1960, foi um pioneiro tanto da música drone quanto do cinema estrutural. O breve texto aqui traduzido consta no livro Tony Conrad: Writings (2019), coletânea de textos de 1961 a 2012, um conjunto de textos tão diversos quanto seus interesses e áreas de atuação.
Como não dizer um poema: algumas hipóteses
Jeanne Callegari
“Nunca tente sair do solo quando você fala sobre voar”, escreveu Leonard Cohen em seu poema “Como dizer poesia”. Essa é a hipótese zero. Não interpretar um poema.
Dizer poesia não é uma arte espalhafatosa ou grandiosa. Sua vocação têm sido os espaços pequenos, não os estádios. Aliás, como seria a poesia em estádios? Não sabemos, porque ela não costuma estar neles, a não ser por breves aparições. Pode ser que haja uma razão para isso.
Se dizer poesia é uma arte sutil, temos, então, uma primeira hipótese. Dizer poesia não é sobre quem grita mais alto. Não confundir intensidade com volume. O volume é um dos parâmetros possíveis, mas não o único. Efeitos marcantes podem ser conseguidos com o uso do silêncio, da pausa, da voz baixa. Da variação, principalmente.
O grito pode ser usado quando houver uma boa razão para isso, o que é menos vezes do que muitos imaginam. Não estamos falando de efeito terapêutico, catarse, grito primal. Uma coisa é a estética, outra coisa é a clínica.
Segunda hipótese. Dizer poesia não é teatro. Não é atuação. O gênero lírico é diferente do gênero dramático. O poeta não está interpretando um personagem, e a naturalidade artificialmente fabricada do ator muitas vezes cai mal num texto poético.
Isso não significa que não podemos usar elementos do teatro para nos prepararmos para o palco. Há muito que se pode aprender, por exemplo, a postura neutra, que ajuda em coisas como, simplesmente, ficar de pé. Mas, ao fim e ao cabo, é outra coisa.
Terceira hipótese: dizer poesia não é sobre chocar o burguês. A expressão surge no contexto dos decadentistas franceses, Rimbaud, Baudelaire: “épater les bourgeois”, chocar a burguesia. A arte deveria apontar a mira e declarar guerra aos burgueses ricos e conservadores. Nada contra até aí. Mas é preciso contexto.
Quando Ronald de Carvalho lê “Os Sapos”, de 1918, de Manuel Bandeira, na Semana de Arte Moderna de 1922, no Teatro Municipal, o parnasianismo era a corrente poética vigente; o poema ironiza, justamente, essa escola literária, que representava o conservadorismo e à qual os modernistas se opunham. O teatro estava lotado de intelectuais e burgueses. Ronald é vaiado.
No sarau pequeno com seus pares, qual é o objetivo? São eles os burgueses, os donos do dinheiro? Contexto, intenção. O que chocava alguém há cem anos, hoje muitas vezes provoca bocejos.
Na outra ponta do espectro, mas com o mesmo efeito, temos a leitura preguiçosa. Que não se entende como performance e por isso nem tenta. Quarta hipótese: dizer poesia não é um ato burocrático a serviço do texto, um meio inerte a serviço da mensagem. Mesmo uma leitura plana, simples, é um ato performático e pode e deve ser tratada como tal, com presença e intenção. Não como quem pede desculpas por estar ali e lê rapidamente para acabar logo.
Performance implica competência, escreveu Paul Zumthor. Não se trata de criar ok,regras artificiais. Tudo pode, é claro, desde que funcione. Essas hipóteses são um ponto de partida na tentativa de encontrar um campo comum, um vocabulário e uma gramática, para podermos fazer escolhas com mais propósito e propriedade.
Jeanne Callegari é poeta, artista sonora e produtora cultural. Em suas performances ao vivo, trabalha com os cruzamentos entre palavra, voz, ruídos e paisagens sonoras.
Anotar (o som) como forma de escrita autônoma
Gabriela Nobre apresenta um trecho da sua tese de doutorado, “Outras formas de escrita: anotação, gravação, simpoiésis”
Antes mesmo de começar a trabalhar com arte sonora, sempre me utilizei, em minha atuação enquanto poeta, de formas de anotações para indicar sons, representar música, e isso nunca se deu a partir de uma notação musical tradicional (a típica partitura musical na qual todo um sistema simbólico particular é empregado para registrar obras musicais e instruir uma intérprete na preparação dessas). Minha primeira atuação em arte e parte de minha formação acadêmica são na Literatura. Talvez por isso, ao procurar me comunicar e registrar ideias e intenções, a notação verbal sempre veio em primeiro lugar, principalmente a poesia. Não apenas por causa de minha formação, mas sobretudo em função do meu interesse por música, a partitura verbal sempre figurou como ferramenta decisiva em minha prática artística até determinado ponto. À medida em que alguém se relaciona com a vasta produção de partituras verbais, tornam-se claras suas complexidades, e parte daí seu grande interesse. Robert Blatt, compositor estadunidense, por exemplo, propõe que “tudo pode ser uma partitura”. Além disso, Blatt entende a partitura como algo que pode fazer parte do mundo de uma forma inclusiva, o que somente seria possível a partir do que se compartilha: linguagem e leitura.
Partituras verbais cortam laços de relação, estes da ordem do intocável, com a partitura tradicional, na qual a cisão entre música e texto é flagrante. Além disso, partituras tradicionais estavam atreladas ao que percebia como sendo um ‘mal de notação’, uma vez que são inacessíveis a quem não domina um certo tipo de escrita, uma notação simbólica. O que chamei de ‘mal’ pode ser lido à luz do humor com o qual Cornelius Cardew (A Reader, 2006) comentou semelhante problemática, dizendo que “a notação é uma forma de fazer as pessoas se mexerem. Na falta de outras coisas, como agressão ou persuasão. A notação deve funcionar. Este é o aspecto mais gratificante de trabalhar com notação. O problema é: assim que você percebe que seus sons são muito estranhos, destinados a 'uma cultura diferente', você descobre a mesma coisa sobre sua bela notação: ninguém está disposto a entendê-la. Ninguém se move”.
Até certo ponto, o nome “partitura” ocupou para mim um lugar de sentido. Mas em 2016, quando iniciei meus trabalhos com o projeto de arte sonora b-Aluria, precisei dar conta de um outro tipo de escrita que acontecia quando eu buscava registrar uma ideia sonora de forma a não me esquecer dela – mas isso só se concretizou alguns anos depois. Até ali, me interessou, especificamente, a ideia de uma partitura comunicante, que criaria ela mesma seu lugar no mundo ao colocar em relação quem a escreve e quem a performa, ou escritora/leitora, na qual o texto tem seu lugar assegurado. Principalmente o seu registro poético, ou literário, e a dimensão performática intrínseca dessas leituras, duas características flagrantes, inclusive, de um certo recorte dentro do escopo das partituras verbais.
Sobre qual escrita escrevo quando escrevo sobre escrita
Ao escrever sobre escrita, parto dos caminhos sobre uma abertura deste conceito, da escrita como processo colaborativo, um “tecido de significantes (...) um sistema onde as vozes se entrelaçam” como pensado por Barthes (S/Z, 1999), e os aproximo do conceito de tentacularidade de Donna Haraway (Ficar com o problema: fazer parentes no Chthluceno, 2023), na qual a autora propõe criação de narrativas, e invenção de histórias e significados que sejam capazes de se entrelaçar em redes complexas de interações. Entendo que uma aproximação entre Barthes e Haraway seja inusual e até algo arbitrária. De um lado, Barthes define a escrita como um espaço de jogo entre signos, no qual o significado é construído através da interação entre leitores e o próprio texto. Ele defende este como um “mosaico de citações”, influenciado por outros textos e contextos, enfatizando a intertextualidade. A escrita, nesse sentido, se torna uma prática de montagem e recomposição de significados, desafiando a ideia de verdade única verdade ou interpretação. De outro lado, Haraway compreende a escrita como uma prática narrativa que emerge de relações complexas entre seres humanos e não-humanos. Para a filósofa, a escrita deve refletir a realidade das interconexões e responsabilidades em um ecossistema, enfatizando a coevolução e a coexistência.
Mas é nesse espaço pouco confortável entre dois que estabeleço meu ponto de partida sobre um conceito inicial de escrita. A de uma escrita que se relaciona com o texto como um campo vívido – valor presente tanto em Barthes – ao considerar o texto como um campo de significantes no qual os caminhos de interpretação são múltiplos –, quanto em Haraway – ao considerar o texto e a sua escrita como um meio de interconexões e histórias compartilhadas.
Ao invés de narrativas lineares, que comumente buscam uma sequência rígida de uma lógica já muito conjugada, a “narrativa tentacular”, como no dizer de Haraway, assume linhas multiformes, refletindo a complexidade das relações entre seres humanos e não-humanos.
Quando falo sobre escrita, então, isso é tentativa de fundamento, mas também exercício de exacerbação desses conceitos, uma vez que eu não seria capaz de escrever sem deixar que estes transbordem para além de seus limites aparentes. Pois somente aquilo que é (também) entorno pode configurar uma escrita mais completa e honesta sobre uma ideia.
Traços e linhas indicam início
A palavra “traço” carrega em si uma amplitude semântica que se desdobra, variando sua aplicação desde as artes à sua função na psicologia e na biologia. No campo do desenho, como sabemos, um traço refere-se a uma linha ou marcações realizadas com objetos de desenho: lápis, canetas, pincéis etc. Se eu me detivesse unicamente a esta definição, poderia dizer que ela abrange uma infinidade de estilos e técnicas que variam em espessura, forma e intensidade. Na linguística, o conceito de traço adquire outra dimensão, sendo utilizado para descrever características distintivas de fonemas e morfemas dentro de uma língua. Traços sonoros, por exemplo, podem incluir atributos como vozeamento e nasalidade, fundamentais para a diferenciação de significados e construção de palavras. Segundo a teoria dos traços distintivos proposta por Roman Jakobson, “os traços permitem uma análise metódica da estrutura fonológica de uma língua” (Selected Writings, 1962), permitindo aos linguistas compreender melhor a complexidade de um sistema linguístico.
Na psicologia e psicanálise, o termo é empregado para caracterizar aspectos da personalidade que tendem a ser consistentes ao longo do tempo. Traços de personalidade, como a introversão e a extroversão, por exemplo, são frequentemente estudados em psicologia comportamental e traçam um perfil do indivíduo em termos de comportamento social e interação. A abordagem dos traços de personalidade, conforme elaborada por psicólogos como Gordon Allport, em The Person in Psychology, sugere que “os traços são disposições que informam e direcionam o comportamento em uma variedade de contextos”, ressaltando a importância de entender a individualidade a partir de suas características intrínsecas.
Na biologia, o termo traço se refere a características observáveis dos organismos, como a cor dos olhos em seres humanos ou a forma das folhas em plantas. Nesse contexto, os traços podem ser influenciados tanto por fatores genéticos quanto ambientais. A teoria da seleção natural de Charles Darwin postula que os traços que conferem uma vantagem adaptativa a um organismo são mais propensos a serem transmitidos às gerações subsequentes, evidenciando a forma como a variabilidade dos traços contribuiu para o que foi considerado a evolução das espécies.
Em um contexto geométrico, um traço pode ser definido como uma linha que conecta dois pontos ou uma representação visual em um gráfico. Essa definição é fundamental em diferentes aplicações, como em matemática e física, em que a representação gráfica é essencial para compreender certas relações.
O traço parece ser um conceito seminal, mas, também, materializa uma urgência. Urgência que chamarei aqui de “urgência de anotação”. Henri Bergson, em A evolução criadora, diria “o traço é a materialização da intuição”, evidenciando como isso a que chamamos “expressar-se” manifesta-se através da manualidade, em um gesto breve de mão.
Traço, linha, registro
Nas línguas latinas, pode-se comumente intercambiar a tradução de “traço” por “linha”. Por exemplo, ao propor a ideia de uma ontologia orientada pelo ritmo no penúltimo capítulo do seu Being up for grabs – on speculative onthology, Hilan Bensusan utiliza como exemplo de ressonância o aspecto das ritimitas. Essas rochas sedimentares, comuns em Brasília, terra do autor, possuem um aspecto “laminado”. Suas diferentes ‘linhas’ seriam o registro do ritmo ao seu redor – ou de eventos passados que refletem tal sedimentação orientada pelo ritmo:
“A ressonância aparece não apenas entre sistemas orgânicos, mas também, sugestivamente, entre rochas sedimentares. É interessante observar uma forma particular de rocha sedimentar que é muito comum de onde eu venho – o solo antigo de Brasília. Muitas das rochas na região são ritimitas. Uma ritimita é composta por linhas sedimentadas que sugerem periodicidade. Elas registram ritmos dos eventos locais, ritmos que podem ser sazonais, ou de processos de curto prazo, como marés; ou processos de longo prazo, como inundações regulares. As ritimitas ao redor de Brasília registram padrões que lembram as marés do mar e, como tal, revelam que a área pode ter sido lar de um mar pré-histórico. O mar, que pode ter estado aqui há milhões de anos, deixou seus vestígios no solo porque tinha ritmos. A geologia das ritimitas é o estudo da periodicidade de eventos passados. Estuda como aquilo que acontece ao redor das rochas as marca. A sedimentação é orientada pelo ritmo. Ela ocorre na cadência do que está nas proximidades – e fornece um registro condensado de sua vizinhança à medida que suas linhas representam o que aconteceu ali”.
Ao buscar conhecer o aspecto de uma ritimita a partir da leitura do texto de Bensusan, percebo que essa massiva estrutura é registro vivo de determinados movimentos do mundo: ele exibe em seu corpo de pedra as marcas do que esteve em sua proximidade, ao seu redor. A pedra é como um suporte de escrita para o meio no qual ela está inscrita. Ao mesmo tempo, há um outro movimento: linhas inscrevem-se na pedra e perpetuam aquilo que é preciso que esteja registrado: acontecimento, marca do tempo, memória. Daí minha escolha por traduzir “layers”, camadas, por “linhas”. Considero a palavra mais ajustada à noção de “inscrição”: o que acontece é anotado na pedra.
Disponível no acervo de rochas sedimentares clássicas do IGC-USP.
Tim Ingold, antropólogo e teórico social, não escreveu especificamente sobre linhas incrustadas em pedras, mas dedicou parte de sua produção intelectual a pensar essas linhas que, segundo ele, informam sobre como pessoas interagem com o mundo ao seu redor: “Cada linha que traçamos é uma narrativa em movimento, um testemunho da trajetória de nossa vida e de como interagimos com o ambiente ao longo do tempo” (Linhas: uma breve história).
Ao buscar repensar noções tradicionais de espaço, tempo e identidade, Ingold propõe que linhas contam menos sobre representação e mais sobre o processo de se relacionar com o mundo. Ele descreve as linhas como “caminhos pelos quais os seres humanos se movem e se envolvem com outras formas de vida”. Esse conceito é fundamental, pois expande a ideia de que o espaço é uma estrutura estática. Em vez disso, Ingold argumenta que o ambiente é constituído por uma rede de trajetórias, dinamicamente formadas por interações e práticas históricas.
Ao tentar explicar o que é um traço, possivelmente se esbarra na ideia de uma linha. Por exemplo: “Um traço ou um traçado refere-se a uma linha simples”. Mais do que uma “marca”, ou um “sinal” – palavras aqui também possíveis para explicar o termo –, “linha” me parece uma palavra adequada, por evocar uma sucessão de pontos que se estende em uma direção. Embora seja possível uma intercambialidade de sentidos entre os dois termos, suas definições podem ser distintas: enquanto “traço” tende a enfatizar a ideia de uma marca ou característica individual, “linha” representa geralmente algo mais contínuo ou uniforme. Cada uma delas carrega nuances que podem variar em diferentes contextos, mas ambas habitam concomitantemente o conceito de representação gráfica.
Anotar
Uma anotação é feita a partir de traços e linhas. Nela, entendo como traço as marcas que representam palavras, letras ou ideias, que podem ser desenhadas manualmente ou digitadas. As linhas representam a estrutura da anotação, como linhas horizontais que separam diferentes pontos ou listas, ou linhas que conectam ideias. Elas ajudam a organizar o conteúdo e a mostrar a relação entre diferentes partes da anotação. Sobretudo, são as linhas o suporte daquilo que é escrito, a concretude em que uma palavra se apoia para existir enquanto escrita.
Urgência de anotação
Uma anotação é feita a partir de uma urgência. A “urgência de anotação” para algo que foi pensado e não pode ser perdido. Não importa tanto se é a urgência da pedra que permite que se inscreva nela o movimento do fluxo das águas, como a ritimita; ou se dado ambiente, depois de ocupado por um grupo de pessoas, passa a conter linhas e traços que denotam que houve pessoas ali – tal como pensado por Ingold. Tudo parece buscar seu registro. E se tudo é passível de ser inscrito, anotado, eu também anoto.
Uma anotação pode representar música, indicar sons e isso tem mais relação com a ideia de escrever um texto do que com uma notação musical tradicional. Anotar, escrever um texto, é fazer música, desmutar palavras. E se tudo anota, eu também.
*
Pensar sobre as complexidades de sentido que carregam o traço e a linha, afirmam a urgência da anotação como ato de acolhimento daquilo que é a matéria mais concreta do que se quer que possa ser pensado: a escrita. A discussão sobre as partituras verbais exemplifica como a anotação transcende a mera função utilitária, transformando-se em uma prática que gera novas formas de entendimento e performance.
Desde memórias sedimentadas em rochas até a viabilidade da escrita não formal de música, anotar se configura como forma de escrita autônoma. Não somente conectando pontos, listando ou enumerando, mas abrindo caminho mesmo para o diálogo entre palavra e som, texto e prática.
Gabriela Nobre é artista sonora à frente do projeto b-Aluria, escritora e doutora em Estudos Contemporâneos das Artes (UFF). É também organizadora do selo independente Música Insólita.
O poema aputarado: notas sobre a performance Apupú – onde os corpos vibram
Natasha Felix
Crédito da imagem: Daisy Serena. A dançarina Dandara Patroclo em APUPÚ
1. A voz é mbiembiembé, feitiço que conjura a ficção.
2. Apupú é um calão angolano, uma gíria que aprendi em Luanda. Um aputaro é onde está a festa boa. Aputarados, como ficamos quando a parada ferve. Vejo essa gíria nas bocas cariocas.
3. Cheiro de suor, birra meio quente na mão, movimentos bruscos dos kuduristas levantando a poeira enquanto as caídas.
4. Na performance, apupú funciona como uma imagem, não tem pretensão de ser lido como uma transposição de cenário. Não é uma paisagem. De longe, não é sobre reproduzir um apupú do Kikagil ou do Sambizanga.
5. As escolhas da voz correm atrás de uma força vital.
6. É mais sobre a palavra apupú e sua intenção fazerem o poema ser obcecado pelo som.
7. Começou com o desejo de continuar pensando sobre Luanda mesmo que não estivesse mais lá. Junto com outros artistas negros da cena – da música, da performance, da dança, das artes visuais.
8. De termos espaços para incendiar o texto, romper com nossos cacoetes, testarmos algo novo, gastar uma onda.
9. As escolhas da voz contrariam as políticas de morte e controle.
10. Uma zona temporária de experimentação e pesquisa em performance, a partir das conversas impossíveis entre Brasil e Angola.
11. A voz ergue sonhos insubmissos.
12. Começou com uma irritação com os formatos de grande parte dos eventos de poesia, é verdade. Mas isso é papo para o bar, ou seja, um papo mais sério.
13. Existe uma vontade de fazer da subjetividade e da festa princípios de criação para todos os envolvidos na performance.
14. O poema dança na língua, vive no set, se espalha na pista.
15. A voz quer ser radical. Quer e pode sempre mais.
Natasha Felix (Santos, SP, 1996) é poeta. Há dois anos, realiza a performance APUPÚ - onde os corpos vibram. Ao lado do DJ angolano Joss Dee e artistas convidados, cria uma zona temporária de experimentação com o desejo de fazer o poema dançar.
meia página é uma revista digital dedicada a especulações estéticas e narrativas sônicas. É editada por Reuben da Rocha, Igor Souza, Jeanne Callegari, Romulo Alexis e Bruno Trochmann. Para crédito de imagens, sugestões e colaborações, escreva para revistameiapagina@gmail.com.